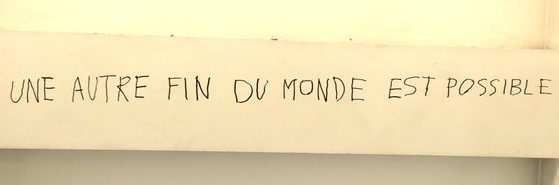Uma das forças do teatro moderno: criar uma solidão no meio de uma multidão. O diretor russo, Stanislavski, foi um dos que buscou no ator essa conexão consigo mesmo. Entretanto, uma linha de aderência social capturou essa força e a domesticou como quarta parede: a ilusão cênica.
Richard Wagner já havia afundado a platéia na escuridão, rompendo com os acenos da sociabilidade de salão, reascendendo no palco o mito. Mas o movimento de isolamento a que se submetem atores e espectadores, necessário à fabricação do imaginário, torna-se, por sua vez, um modo de consumo: a contemplação. Entretanto, em La Luna de Bernardo Bertolucci, dois adolescentes fazem sexo atrás das poltronas da platéia enquanto no palco executa-se uma ópera de Verdi: as pulsões dos corpos reivindicam seus direitos e abrem outros espaços imaginários.
Grotowski e muitos outros trouxeram os corpos para o contato mais próximo, já que as demarcações entre criadores e público tornaram-se uma nova convenção social. Novas armas para romper com os hábitos sociais. Diferente disso, a cena invade a platéia e a platéia invade a cena. Novos relacionamentos entre criadores e público.
E o ator, como se localiza nisso? Grotowski criou as noções de ator cortesão e ator santo. O primeiro seduz mas não se entrega. Já o o ator santo seria aquele que, na relação com o espectador e com suas próprias sensações, entrega-se num ato ao mesmo tempo sagrado e profano. Ele se desnuda ao atuar. Porém, ele não o faz para uma audiência, mas sim diante de uma audiência. E cita Artaud, lembrando que o ator é um supliciado na fogueira, de onde emite estranhos sinais.
Um vocalista e guitarrista de uma banda de rock me surpreendeu e me fez repensar esse lugar do ator no palco. O acontecido se deu no Teatro Marília, em Belo Horizone, no projeto Quarta Sônica – rock independente – (com curadoria do poeta e músico Gil Cevi), com a banda Wry (os caras são brasileiros, mas vivem em Londres). Mas, então, o que se espera de um vocalista/guitarrista de uma banda de rock? Que ele toque para ou diante de uma platéia. Armas da sedução, do artista cortesão ou de revelação, do artista supliciado? Mario Bross, o vocalista e guitarrista, atravessa pelo meio, ao meu ver, tais oposições: ele aproxima-se ao máximo, parece que olha para alguém e se oferece tocando fundo na alma. Não faz nada de grotesco ou de exagero, não empunha gestos que excitam ou incendeiam a platéia. Não realiza truques: ele se oferece, só isso. Apenas vai lá, frágil e diabólico, e toca pertinho da boca de cena. E logo recua, dá as costas, vai para o fundo.
Rogério de Freitas, citando Blanchot, diz:“é a distância que permite um encontro”. Fala ainda da diferença entre turistas e estrangeiros… Penso que Rogério fala do ato de ver, de passar… O performer (músico, cantor, bailarino, ator) se relaciona com a espectador como se fosse turista ou estrangeiro? Isso conecta com o que diretor e fundador do Teatro Antropológico, Eugenio Barba, diz do performer: este estrangeiro que dança diante de mim.
Richard Foreman, o genial encenador, criador de um teatro não-narrativo, pós-dramático, diz em Unbalancing Acts (Theatre Communication Group: New York, 1992) que o ator de suas performances não deve querer ser amado pela platéia. Deve, em tudo o que faz, ofertar em segredo para uma única pessoa presente no espaço, como se somente aquela pessoa pudesse perceber:
“I want to see a performer who makes me feel I see what is happening inside his soul, but at the same time gives me the feeling that I may be the only one in the audience perceptive enough to pick up on it.”[1]
Tudo isso me traz a imagem de Jéssica Azevedo, abrindo um grito mudo no meio da rua, fragilizando-se na cena de Fudidos, trabalho que realizei com Ricardo Júnior na Rua Guaicurus (região da baixa prostituição de Belo Horizonte), com os alunos e alunas da Escola de Artes Cênica/Belas Artes/UFMG, em 2004. Falo de Jéssica porque trabalhamos já alguns anos juntos, mas cada um dos artistas, ali, se fazia possuir pelos seus desenhos corporais como passagem para o campo das intensidades. Estou falando de uma campo sensorial, que pode atingir os sentidos e não de códigos de comunicação teatral.
Richard Foreman lembra que o rigor (diria, a crueldade) do exercício cênico que abdica de todo a sedução é, estranhamente, erótico. São traços de um teatro que não se vincula ao drama e que não passa pela comunicação, mas pelos estados perceptivos que podem se abrir e pela capacidade de sofrer e causar afecções.
[1] Tradução: “Eu quero ver um performer que me faz sentir o que está acontecendo dentro de seu espírito, mas ao mesmo tempo me dá o sentimento de que somente uma pessoa na audiência percebe suficientemente para captar isso.”
Uma das forças do teatro moderno: criar uma solidão no meio de uma multidão. O diretor russo, Stanislavski, foi um dos que buscou no ator essa conexão consigo mesmo. Entretanto, uma linha de aderência social capturou essa força e a domesticou como quarta parede: a ilusão cênica.
Richard Wagner já havia afundado a platéia na escuridão, rompendo com os acenos da sociabilidade de salão, reascendendo no palco o mito. Mas o movimento de isolamento a que se submetem atores e espectadores, necessário à fabricação do imaginário, torna-se, por sua vez, um modo de consumo: a contemplação. Entretanto, em La Luna de Bernardo Bertolucci, dois adolescentes fazem sexo atrás das poltronas da platéia enquanto no palco executa-se uma ópera de Verdi: as pulsões dos corpos reivindicam seus direitos e abrem outros espaços imaginários.
Grotowski e muitos outros trouxeram os corpos para o contato mais próximo, já que as demarcações entre criadores e público tornaram-se uma nova convenção social. Novas armas para romper com os hábitos sociais. Diferente disso, a cena invade a platéia e a platéia invade a cena. Novos relacionamentos entre criadores e público.
E o ator, como se localiza nisso? Grotowski criou as noções de ator cortesão e ator santo. O primeiro seduz mas não se entrega. Já o o ator santo seria aquele que, na relação com o espectador e com suas próprias sensações, entrega-se num ato ao mesmo tempo sagrado e profano. Ele se desnuda ao atuar. Porém, ele não o faz para uma audiência, mas sim diante de uma audiência. E cita Artaud, lembrando que o ator é um supliciado na fogueira, de onde emite estranhos sinais.
Um vocalista e guitarrista de uma banda de rock me surpreendeu e me fez repensar esse lugar do ator no palco. O acontecido se deu no Teatro Marília, em Belo Horizone, no projeto Quarta Sônica – rock independente – (com curadoria do poeta e músico Gil Cevi), com a banda Wry (os caras são brasileiros, mas vivem em Londres). Mas, então, o que se espera de um vocalista/guitarrista de uma banda de rock? Que ele toque para ou diante de uma platéia. Armas da sedução, do artista cortesão ou de revelação, do artista supliciado? Mario Bross, o vocalista e guitarrista, atravessa pelo meio, ao meu ver, tais oposições: ele aproxima-se ao máximo, parece que olha para alguém e se oferece tocando fundo na alma. Não faz nada de grotesco ou de exagero, não empunha gestos que excitam ou incendeiam a platéia. Não realiza truques: ele se oferece, só isso. Apenas vai lá, frágil e diabólico, e toca pertinho da boca de cena. E logo recua, dá as costas, vai para o fundo.
Rogério de Freitas, citando Blanchot, diz:“é a distância que permite um encontro”. Fala ainda da diferença entre turistas e estrangeiros… Penso que Rogério fala do ato de ver, de passar… O performer (músico, cantor, bailarino, ator) se relaciona com a espectador como se fosse turista ou estrangeiro? Isso conecta com o que diretor e fundador do Teatro Antropológico, Eugenio Barba, diz do performer: este estrangeiro que dança diante de mim.
Richard Foreman, o genial encenador, criador de um teatro não-narrativo, pós-dramático, diz em Unbalancing Acts (Theatre Communication Group: New York, 1992) que o ator de suas performances não deve querer ser amado pela platéia. Deve, em tudo o que faz, ofertar em segredo para uma única pessoa presente no espaço, como se somente aquela pessoa pudesse perceber:
“I want to see a performer who makes me feel I see what is happening inside his soul, but at the same time gives me the feeling that I may be the only one in the audience perceptive enough to pick up on it.”[1]
Tudo isso me traz a imagem de Jéssica Azevedo, abrindo um grito mudo no meio da rua, fragilizando-se na cena de Fudidos, trabalho que realizei com Ricardo Júnior na Rua Guaicurus (região da baixa prostituição de Belo Horizonte), com os alunos e alunas da Escola de Artes Cênica/Belas Artes/UFMG, em 2004. Falo de Jéssica porque trabalhamos já alguns anos juntos, mas cada um dos artistas, ali, se fazia possuir pelos seus desenhos corporais como passagem para o campo das intensidades. Estou falando de uma campo sensorial, que pode atingir os sentidos e não de códigos de comunicação teatral.
Richard Foreman lembra que o rigor (diria, a crueldade) do exercício cênico que abdica de todo a sedução é, estranhamente, erótico. São traços de um teatro que não se vincula ao drama e que não passa pela comunicação, mas pelos estados perceptivos que podem se abrir e pela capacidade de sofrer e causar afecções.
[1] Tradução: “Eu quero ver um performer que me faz sentir o que está acontecendo dentro de seu espírito, mas ao mesmo tempo me dá o sentimento de que somente uma pessoa na audiência percebe suficientemente para captar isso.”